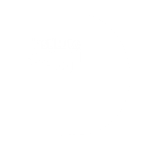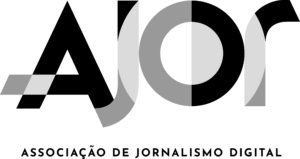CRISTIAN GÓES, da Mangue Jornalismo
@josecristiangoes
Hoje, a Mangue Jornalismo publica o 9º texto da série especial de reportagens sobre o golpe civil-militar de 1964 e a ditadura em Sergipe. Talvez seja o material mais duro e difícil porque revela uma parte da extrema violência a que foi submetida os sergipanos Wellington Mangueira e Laura Marques.
Nesse sentido, cumpre a Mangue Jornalismo o dever de informar aos leitores que existem nestas reportagem fortes narrativas que podem ferir a sensibilidade. No entanto, esta organização de mídia independente e de qualidade defende que é obrigação do jornalismo contribuir para a efetivação do direito à verdade e à memória.
Grande parte do material produzido da série de reportagens sobre o golpe civil-militar de 1964 e a ditadura em Sergipe vem do relatório final da Comissão Estadual da Verdade (CEV/SE), organizado por Andréa Depieri e Gilson Reis e contou com a colaboração decisiva de vários conselheiros e pessoal de apoio.
Retornando de Moscou
No começo da década de 1970, Wellington Mangueira e Laura Marques já eram conhecidos da repressão militar. Ambos estiveram no XXX Congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna/SP, no ano de 1968, e seus nomes constavam na lista de estudantes a serem expulsos da universidade.
Segundo a biografia de Mangueira (ALVES, 2018), em 1971, Wellington e Laura teriam decidido ir a Moscou por conta da ameaça iminente de prisão. A história mais difundida é que eles teriam ido estudar na Universidade Patrice Lumumba.
No entanto, em depoimento na CEV/SE, em janeiro de 2016, Wellington contou que nunca estudou nesta universidade, mas sim na Escola Superior de Quadros do Partido Comunista da União Soviética. A tática, segundo ele, era usar a reconhecida instituição internacional para encobrir seu vínculo com o Partido Comunista.
Segundo os sergipanos, durante a estadia na URSS, forças militares realizaram buscas nas casas de seus familiares no Brasil, à procura de provas que incriminassem a ambos. No entanto, a única informação que chegou ao conhecimento do casal, por meio de correspondência, foi que teriam sido absolvidos no Brasil (ALVES, 2018), o que lhes indicava que não seriam mais presos e por isso decidiram retornar a Aracaju.
De acordo com depoimento de Laura Marques à CEV/SE, no regresso ao Brasil, passaram um tempo em Salvador em vez de partirem, diretamente, a Aracaju, com o intuito de colher informações com familiares e amigos sobre o clima político em Sergipe.
Ao chegar a Aracaju, ainda nos primeiros dias, Laurinha e Mangueira ficaram hospedados na casa dos pais dele e passaram a visitar familiares que não viam há muito tempo.

Prisão do casal: olhos vendados, pau de arara e outras torturas
Há menos de uma semana do regresso em Aracaju, as forças militares já estavam na casa dos Mangueira Marques. O casal não estava na residência no momento, mas ainda assim, ele se apresentaram aos militares pois não havia mais nada a dever.
“Nós pensamos até em não nos apresentar. Eu lembro como se fosse hoje: a gente vinha de ônibus passando na praça Tobias Barreto. Eu vi a casa da mãe de Mário Jorge, e aí deu vontade de parar e ir lá para ver se a gente podia pedir, recorrer, mas depois, disse ‘não, é melhor a gente encarar’. Fomos e a Polícia Federal nos prendeu e nos levou para Salvador”. Disse Laura Marques à CEV/SE em 22 março 2016.
Mangueira, já advogado, ainda tentou se opor à prisão, que seria ilegal considerando a prescrição do processo a que responderam, contudo, sob a vigência do AI-5, foram levados para prisão em Salvador sem que suas famílias fossem informadas das suas localizações.
Em sua biografia, Wellington Mangueira conta que foi interrogado em Aracaju e, posteriormente, levado de olhos vendados a Salvador, com destino ao Forte de Barbalho. Lá, sob a custódia do Estado brasileiro, Mangueira foi torturado em pau de arara.
Em reação às duras violações, Wellington usou técnicas aprendidas com o professor Jackson da Silva Lima: “Eu passei a não falar coisa com coisa; mexer a cabeça demais para os lados; dar voltas e mais voltas na cela como se estivesse mesmo ficando louco.” (ALVES, 2018, p.114).
A manobra surtiu efeito, de modo que as sessões de tortura diminuíram gradativamente até serem levados do Forte de Barbalho até Amaralina (ALVES, 2018). No novo local, Wellington Mangueira passou por novas sessões de tortura, por exemplo, ele era obrigado a ficar acocorado sobre latas de sardinha e salsicha abertas.


Wellington Mangueira e Laura Marques. Registro de uma das suas prisões (CEV/SE)
Choque elétrico nos testículos
Wellington Mangueira foi submetido também a torturas com choque elétrico e afogamento, acompanhadas por um médico:
“Algemaram, como nas masmorras, aí com choque elétrico nos meus testículos, e] na glande do pênis. Tremia todo. Ele [um dos torturadores] disse ‘É, agora você vai ter que falar’. Choque elétrico e, e, afogamento artificial”, contou Mangueira.
Ele tentou falar com o algoz dizendo que não era comunista e que sempre viajava para fora de Aracaju. “Mas os torturadores respondiam: ‘Não, mas porque você é peixe grande. Seu nome foi encontrado no paletó de uma pessoa importante. Vocês estão mentindo. Tortura mais. ‘Descansa’”, revelou o advogado.
Wellington conta que “tinha um médico cronometrando meu grau de resistência. Quando acharam que eu estava liquidado [eles falaram]: ‘Você agora vai ver o que vão fazer com sua esposa’.”, lembra Mangueira.
Laura Marques e Wellington Mangueira receberam a orientação de nunca afirmarem que haviam ido a Moscou (ALVES, 2018). Contudo, após horas de sessões de tortura física, Mangueira não via mais saída para a situação, afirmando que foi para Moscou estudar na Patrice Lumumba.
Ir à União Soviética não era crime. Wellington, então, construiu uma narrativa verossímil sobre a viagem que havia feito com Laurinha. A solução de Mangueira para aquela situação foi comprometer pessoas que já estavam mortas naquele momento. Ele relatou aos militares, por exemplo, que a princípio iriam à França por intermédio de um amigo de Mário Jorge, sendo financiados pelo avô de Laurinha.
No momento de delatar o nome de companheiros, afirma ter dado o nome de militantes de outros países de origem latina, como Argentina e Portugal, em vez de brasileiros. Em seu depoimento, Laura contou como eles fizeram para que as histórias de ambos combinassem:
“Wellington quis falar comigo. ‘Laurinha eu tive que dizer que fomos a Moscou, não negue. Eu tive que dizer que estudamos com Inácio, com Fernando, com Miguel’. Aí, eu percebi que Wellington não falou o nome de brasileiro nenhum, era só os estudantes de Portugal, da Argentina”, lembra Laura Marques.
Ela relata que após esta série de interrogatórios e torturas, eles foram levados à Brasília, onde ficaram sob responsabilidade da Guarda Nacional. Laura percebeu que era a capital federal ao avistar um dos prédios ministeriais. Só lá começaria a parte legal do processo e da tomada de depoimentos, com horário registrado em ata, sem interrogatório realizado pela madrugada ou sessões de torturas.
Marques contou que aquela movimentação até Brasília era resultante de mobilizações que aconteciam em Sergipe e no Senado Federal – neste espaço pela voz de Nelson Carneiro (MDB/GB), denunciando seu desaparecimento. Após este lampejo de legalidade, ambos voltaram aos porões da ditadura.
Torturas no Rio de Janeiro e a gravidez para evitar o estupro
Laura Marques e Wellington Mangueira foram levados, de carro, de Brasília até o Rio de Janeiro e entregues na prisão Barão de Mesquita, onde operava o DOI/CODI da cidade (ALVES, 2018). Neste translado, os sergipanos foram conduzidos pelo oficial identificado como “Doutor César”.
“Doutor César” é José Brant Teixeira, reconhecido por Laura Marques como sendo a pessoa que os conduziu nessa viagem e um dos torturadores de Mangueira.
Segundo depoimento de Laura Marques à CEV/ SE, ao chegarem na nova prisão, os militares pediram que ela tirasse sua roupa: “Eu só tirei a roupa de cima, fiquei de sutiã e calcinha. Ele: ‘Não, é para tirar toda’ e Wellington vendo. Uma forma de já humilhar sabe.”
Marques relata que neste novo cárcere eram tão frequentes os gritos que, de sua cela, ela logo projetava virem de Wellington. Este relato corrobora a avaliação de Gaspari (2002, p. 24) de que a ligação entre ditadura e tortura se embaralhara de tal forma, que a tortura era compreendida como um elemento “natural” do jogo político.
Houve nessa prisão do DOI/CODI, da Barão de Mesquita, a possibilidade de saírem do cárcere, desde que o casal se tornasse informante do governo. Mangueira conta que aproveitou-se da situação e fingiu aceitar a proposta, ao passo em que já elaborava uma tática para que pudesse se livrar dos militares.
O casal foi, então, liberado e deveria retomar contato com os agentes da repressão em Salvador. Todavia, nunca compareceram a este encontro (ALVES, 2018). Ao invés disso, eles procuraram o escritório da advogada Ronilda Noblat, que os havia defendido pela participação do XXX Congresso clandestino da UNE, em 1968, no município de Ibiúna/SP.
A advogada colocou sobre a mesa as opções disponíveis para eles naquela situação: sair do país (legal ou ilegalmente), solicitar asilo político no exterior ou continuar no Brasil, mantendo-se, contudo, na ilegalidade.
Inicialmente, Wellington e Laurinha retornam a Aracaju, entretanto, optaram por não ficar na casa dos pais de Wellington, permaneceram escondidos na residência de Marinice Martins Vieira, viúva de Mário Jorge, por intermédio de uma articulação de Marcélio Bomfim.
Neste regresso, eles decidem tentar ter um filho, também como uma forma estratégica. Considerando que havia o risco de serem recapturados e que os estupros faziam parte do pacote de torturas a que eram submetidas as mulheres, se Laurinha já estivesse grávida não poderia engravidar de um eventual torturador.
Além disso, havia o receio de que Mangueira fosse assassinado, por que estava muito visado. Assim, ter um filho de Wellington, naquele momento, era a possibilidade de mantê-lo vivo, nas palavras de Laura Marques em depoimento à CEV/SE.

Quem era o “Doutor César”?
O “Doutor César” era o codinome utilizado mesmo por José Brant Teixeira, coronel do Exército reformado, que exerceu o cargo de diretor da Academia Nacional de Polícia nos anos de 1994 e 1995.
Os chamados “doutores da tortura” ou “doutores do mal” não eram doutores ou médicos, mas o título “doutor” servia como indicativo da posição de comando do agente na estrutura de informação e segurança durante a ditadura militar do Brasil.
O oficial Brant Teixeira aparece citado em várias passagens investigadas pela Comissão Nacional da Verdade, sempre implicado em denúncias graves de tortura e/ou execução extrajudicial, mas não prestou seu depoimento.
Seu passado é mencionado como “segredo de estado. A CEV/SE não conseguiu localizá-lo. Em 2 de maio de 2019, Brant Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Pará por homicídio e ocultação de cadáver na Guerrilha do Araguaia.
É sintomático da precariedade e incompletude do processo de transição que após a redemocratização, formalmente consolidada, Brant tenha sido nomeado diretor da Academia Nacional de Polícia, posto estratégico para a formação de policiais federais.
Tentativa de sair do país e a nova prisão
Voltando ao casal Mangueira e Marques. Já em Aracaju, os dois analisaram as possibilidades dadas por Ronilda Noblat para a condição de ambos. Decidiram que o melhor a fazer era sair do país em direção ao Chile, que à época era governado pelo socialista Salvador Allende.
Marcélio Bomfim auxiliou o casal a arquitetar um plano de fuga, que tinha como primeiro destino o Rio de Janeiro, onde se submeteriam às orientações do partido sobre como lidar com a situação.
Para a fuga, foram mobilizadas algumas pessoas: Major João Teles e Etodéia Teles levaram o casal no meio da madrugada até a divisa de São Cristóvão e Itaporanga D’Ajuda, onde eles trocaram de transporte, daí continuaram o traslado em um Fusca 1973, dirigido por Jorge Maia e Wilda Mangueira em direção a cidade do Rio de Janeiro.
A figura do Major João Teles era importante por conta da possibilidade do carro ser parado por alguma força do Estado no meio do trajeto. Como na madrugada não costumavam ter militares de alta patente em campo, com o Major no carro, qualquer militar de menor patente logo liberaria o veículo, segundo depoimento de Marcélio Bomfim à CEV/SE.
Chegando ao Rio de Janeiro, ficaram em um local designado pelo Partido Comunista. Wellington conta que a direção do PCB, por meio de Lourival Carvalho, deu as opções de saírem legalmente ou esperarem para uma saída ilegal que demoraria e implicava alguns riscos.
Decidiram, de comum acordo, que tentariam sair do Brasil pela via legal. Mangueira afirma que membros do partido acreditavam que não seria sequer necessário apresentar a carteira de identidade para sair do Brasil atravessando a fronteira por terra.
A partir desta deliberação, o casal comprou as passagens para o Rio Grande do Sul e tomaram as vacinas necessárias para entrar no território uruguaio e, posteriormente, no chileno. Mal sabiam que aquele ônibus os levaria à segunda prisão naquele ano.
O casal foi capturado em Porto Alegre, antes mesmo de embarcar para o Uruguai. Primeiro pegaram Laurinha, depois Wellington. Com a prisão, todos os seus bens foram retidos. As malas cheias de roupas de frio nunca mais retornaram ao poder do casal, assim como o dinheiro que estavam levando para o exílio (ALVES, 2018).
Novas e terríveis torturas na prisão no Rio Grande do Sul
Da rodoviária, eles foram levados para a Polícia Federal no Rio Grande do Sul, onde ficaram em salas separadas. As torturas foram retomadas neste ponto e os policiais queriam saber de informações sigilosas.
A primeira reação de Mangueira foi seguir o conselho de negar. Naquele momento, ele negou envolvimento com o Partido Comunista ou qualquer outro movimento comunista. Porém, o seu discurso não se sustentou por muito tempo, tendo em vista a longa ficha corrida que possuía – com registros variados de 1964 até a recente prisão de 1973, quando retornara da União Soviética (ALVES, 2018).
Enquanto isso, em outra sala, Laurinha, que já se encontrava grávida neste momento, sofria outros tipos de tortura. Segundo o depoimento de Mangueira, ela era sistematicamente ameaçada de estupro por soldados.
As torturas em mulheres grávidas eram comuns durante o regime militar, como narra o “Brasil: Nunca Mais” (Arquidiocese de São Paulo, 1985, p. 48): grávidas eram ameaçadas de aborto e muitas vezes induzidas a este processo por agentes da repressão, para que pudessem, em seguida, voltar aos porões da ditadura.
Nesta prisão no Rio Grande do Sul, Wellington teve uma marcante experiência de tortura psicológica. Em sua biografia, ele conta que foi levado ao alto do prédio em que estavam e ofereceram-no a possibilidade de se jogar dali.
Mangueira contou que os policiais diziam que um alagoano teria se jogado de um prédio como aquele, no Rio de Janeiro, em situação similar. Wellington diz que não teve vontade de se jogar sob aquela circunstância, embora durante os momentos de tortura física houvesse desejado a morte. Aquela não era a situação.
Depois desse episódio, Mangueira esteve de cara com um coronel do Exército que também era superintendente da Polícia Federal e, quando Wellington relatou o ocorrido, o militar disse ser contra a tortura e que não concordava com o que estava acontecendo.
Para tentar sair daquela situação, Mangueira prometeu que, se Laurinha conseguisse ter a criança, aquele militar seria padrinho da criança, salvaguardando-a do que pudesse acontecer. A liberação, por parte deste coronel teria ocorrido pela convicção de que, naquele momento, Laurinha e Wellington não estavam na plenitude das suas faculdades mentais para que pudessem revelar novas informações (ALVES, 2018, p. 118).
Retorno ao DOI/CODI no Rio de Janeiro para mais torturas
Os percalços no Sul tiveram fim com a transferência do casal, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), novamente em direção ao DOI/CODI do Rio de Janeiro. Nesse avião, a tortura psicológica entrou mais uma vez em cena.
O casal foi ameaçado, por um major, de ser jogado daquele avião: “Vocês merecem é morrer. Merecem é morrer, muitos já foram mortos assim. Merece é morrer. É morrer e a gente não entregar nem o corpo para a família não saber onde é que estão os ossos”, segundo depoimento de Laurinha à CEV/SE. Diante daquela ameaça, ela teria pensado “Pronto, vão jogar agora.” e logo se preparou mentalmente para a morte.
Participava daquele traslado o sergipano Alberto Figueiredo, então coronel da Aeronáutica e irmão de Adalberto Figueiredo, torcedor do Cotinguiba e amigo de Wellington.
Alberto ignorou a ligação anterior que existia entre eles e ainda fez um discurso chamando-os de subversivos, comunistas e guerrilheiros. Apesar da situação desfavorável, Mangueira e Laurinha ainda protestaram contra essa última acusação, vez que eram abertamente contrários ao conflito armado, sendo essa a posição política do PCB. Segundo Mangueira, após esse discurso acalorado, os agentes gargalharam e pararam de ameaçar de jogá-los do avião.
No DOI/CODI carioca, Laura foi submetida a sucessivos “exames de toque”. Wellington, dentre outras, foi submetido à tortura da geladeira (em que ficou desacordado por conta do frio), à sucessão de holofotes e também à cadeira do dragão. Wellington, ao narrar estes maus tratos, em depoimento à Comissão, disse pensar, naquele momento: “Mate logo, mate, pode matar”.
Em seu depoimento, Laurinha narra uma passagem que aconteceu na famigerada Rua Barão de Mesquita, endereço do DOI/CODI carioca:
“A gente ouvia gritos, pessoas torturadas. Teve uma vez, que eu acho que ele era capitão, não sei, abriu a portinha e disse: ‘Tá com medo é? Você tá com medo? É um cara que está me dando trabalho’. Aí eu: ‘Não’. Eu toda deitada na cama: ‘Não, não, não!’. [ele respondera] ‘Olhe, eu faço, eu faço mesmo’. Eu só ficava pensando que ia fazer a mesma coisa comigo. Ou então que era Wellington”, lembra Laura.

Parte dos efeitos mais imediatos de tantas torturas
Após alguns meses de cárcere e torturas, o casal foi liberado e colocado em um ônibus que partia do Rio de Janeiro até Aracaju. Segundo Wellington, eles avistaram uma freira que estava no ônibus e através dela conseguiram avisar a uma tia beata que estavam voltando a Sergipe. Pediram para que os esperassem antes da entrada da capital, por receio justamente de que algo ocorresse na entrada da cidade.
Novamente na casa do seu pai, Wellington tinha medo de falar o que acontecera por receio de, durante as torturas, terem implantado microfones ou similares em seu corpo para vigiar as suas movimentações e dos seus companheiros. A saúde de Mangueira estava muito fragilizada.
“Eu fui recebido assim, meio maluco, meio doidão, e não queria realmente falar nada, escrevia e tocava fogo. Escrevia as coisas pra meu pai. Meu pai se impacientou, que ele era mais impaciente e nervoso do que eu, e disse ‘Não é possível, meu filho’, e eu dizendo que não podia”, disse Mangueira.
Ele lembra que o “pai gostava de eletricidade, eletrônica, então entendeu que se ligasse todos os aparelhos de som da casa e abrisse o chuveiro, eu falando com ele debaixo do chuveirão, com todos os aparelhos ligados, não haveria nenhuma intercepção telefônica. Porque eu achava que estava cheio de microfones dentro de mim”.
Esse episódio mostra o tipo de sequela deixada pela tortura. Wellington narrou o tratamento psicológico e psiquiátrico das sequelas em seu depoimento:
“Aprendi a tergiversar. A dor ensina a gemer. Dr. Antônio Garcia me deu muitos remédios para eu acalmar. Era um Valium pela noite pra eu poder dormir – porque eu chutava as paredes, ficava maluco, alucinado pelas torturas que sofri. E de manhã me dava Reativam. Mudou depois quando eu vi que podia me viciar. Aí ele mandou eu quebrar toda a parede, que ele chama de laborterapia. Foi aí que Cássio Barreto, meu amigo de infância, me chama pra ser do Cotinguiba [Esporte Clube]”.
O depoimento de Laurinha confirma o quanto as torturas afetaram Mangueira, além de contar que o que a fortalecera naquele momento fora sua gravidez: “Eu tinha a responsabilidade de ser forte, porque eu queria ter aquele filho”, disse ela.
O casal reconstruiu a sua vida e rotina sem nenhum apoio do Estado; ao contrário, Marques e Mangueira voltaram a ser reprimidos pela ditadura militar ainda mais uma vez, em 1976, quando foram vítimas da Operação Cajueiro, que a Mangue Jornalismo vai trazer nas próximas reportagens.
Referências:
ALVES JÚNIOR, Milton. Continência a um comunista. Aracaju: EDISE, 2018.
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil nunca mais. 20ª ed. Petrópolis: Vozes, 1985.