
PRISCILA VIANA, da Mangue Jornalismo
Promoções de móveis e utensílios para o lar, pacotes em clínicas de emagrecimento e cirurgia plástica, kits de maquiagem e limpeza de pele e cirurgias plásticas e cartões cor-de-rosa sobre o papel sublime da maternidade sempre dão o tom do Dia das Mães no Brasil e que se estende para o mês de maio, Mês das Mães. São imagens e discursos que direcionam o pensamento da sociedade sobre a “mãe ideal”.
Segundo a propaganda, a “guerreira do lar” está sempre pronta a servir e cuidar de todos. Guerreira, mas dócil e bela. Emoldurada tal qual as bonecas fabricadas em caixas de papelão nas prateleiras, disponíveis à escolha de terceiros que a queiram levar para casa e colocar no colo. E tal qual essas bonecas, que seja de preferência inerte a tudo que a rodeia.
A máxima do “Quem ama, cuida” norteia a produção das imagens e discursos sobre a maternidade admirável, cobrindo com o véu do “instinto materno” a sobrecarga, a injustiça e a negação de direitos a que muitas mulheres, na vida real que pulsa fora da publicidade, estão submetidas. Não é nada fácil ser a “guerreira do lar” quando não se tem sequer um lar.
Cerca de 60% das famílias em moradia são chefiadas por mulheres

Segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP) de 2019, há no Brasil cerca de 5.876 milhões de famílias sem moradia ou que vivem em condições precárias de habitação. Com a pandemia da covid-19, esse número se elevou ainda mais – foram mais de 27 mil famílias despejadas e 132 mil famílias ameaçadas de despejo em 2022, de acordo com dados da Campanha Despejo Zero. Cerca de 60% dessas famílias são chefiadas por mulheres, o que as torna o público mais vulnerável diante do déficit habitacional no país.
A educadora popular Jielza Correia Santos tem três filhos e mora na Ocupação da Cabrita, em São Cristóvão, é uma dessas mulheres. “Me tornei mãe com 20 anos sem ter onde morar, apenas com o segundo grau. Ganhava o salário mínimo para pagar aluguel, água, luz e dar comida aos meus filhos. Não encontrava creche, eles ficavam em uma instituição filantrópica para mães solteiras enquanto eu saía para trabalhar. E se não tivesse dinheiro para pagar o aluguel, os senhorios nos expulsavam. Fui parar em um local de periferia por não ter moradia própria, não ter condições de pagar aluguel, assim como a maioria das mães pretas e pobres. A gente não tem opção senão fugir para os quilombos modernos, que são as ocupações de periferia ou de área periurbana. É aí onde começa a minha militância”, afirma Jielza, que é uma das lideranças do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos (MOTU).
Embora tenha consciência da importância de seu papel enquanto mulher, mãe e liderança de um movimento social, ela lamenta por não ter conseguido exercer a maternidade da maneira que gostaria. “Eu não pude acompanhar meus filhos crescendo, não pude ensinar o dever dos meus filhos, encaminhá-los para uma faculdade, porque eu tinha que trabalhar. Se eu não trabalhasse, a gente ia viver onde? Na rua. Então, a minha militância hoje é por todas as mulheres que lutam para criar seus filhos sem ter onde morar, que precisam deixar seus filhos nas creches ou nas mãos de outros para cuidar dos filhos dos mais favorecidos”, complementa Jielza.
E essas mães e mulheres não são poucas

O direito à moradia não significa somente ter um chão sob um teto. Para garantir a dignidade da vida humana, é preciso que esse lar seja uma residência segura, digna e que proporcione saúde mental e física para toda família. Pode parecer um luxo para algumas pessoas, mas esse é um direito prescrito pela Constituição Federal, a partir da incorporação da Emenda Constitucional nº 26.
Uma das condições essenciais para viver é o acesso à água e à alimentação. Só quem é mãe sabe a dor de ver seu filho com fome e não ter nenhum alimento para colocar no prato. E essas mães não são poucas. Segundo dados do II Inquérito de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 (II VIGISAN), publicado em 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN), a insegurança alimentar habita 60% dos lares comandados por mulheres no Brasil. Além disso, a fome atinge 18,1% dos lares com crianças menores de 10 anos e 25,7% dos lares que têm três ou mais pessoas com até 18 anos de idade no grupo familiar.
Sergipe é pequeno em dimensão territorial, mas é bastante representativo no quesito fome. Aqui no nosso pedacinho de chão, são 71,1% das famílias com algum grau de insegurança alimentar – 30% no nível extremo dessa insegurança, que é a fome. Além disso, são 54,6% dos domicílios com presença de menores de 10 anos em insegurança alimentar considerada grave. Dentro da frieza dos números sobre déficit habitacional e a gravidade da fome estão as milhares de mulheres que cuidam de seus filhos vivendo de maneira subhumana em ocupações urbanas.
É o caso da catadora de recicláveis Cleide Maria Nascimento, moradora da Ocupação do Centro Administrativo de Aracaju, no bairro Capucho. Cleide não consegue encontrar vagas para seus netos em nenhuma creche da cidade e sente dificuldades para fazer seu tratamento de saúde. “Se eu for contar o meu estado de vida, do começo até o fim, vai ser um livro. Tenho pré-diabetes e não consigo sair, nem para as consultas médicas, pois tenho uma veia que está entupida e a outra já está entupindo. Não sei como vou conseguir cuidar de meus filhos e dar educação a meus netos, só pela misericórdia de Deus”, destaca Cleide.
A situação das moradoras da Ocupação do Centro Administrativo é bastante delicada. Elas estão sendo ameaçadas de expulsão por conta de uma ação de reintegração de posse e, apesar das constantes tentativas, não conseguem um canal de diálogo com a Prefeitura de Aracaju e o Governo de Sergipe.
Saúde, educação e assistência social

As mães de Aracaju não são as únicas desassistidas pelo Poder Público quando se trata de garantia de direitos. As marisqueiras que moram pelo interior do estado e garantem caranguejos, caldinhos e pasteis de sururu para os turistas na Orla da Atalaia não conseguem sequer um atendimento médico adequado para as questões de saúde específicas da categoria.
Por exercerem uma jornada de trabalho extensiva dentro do mangue, já bastante contaminado por resíduos químicos e pelos resquícios de desmatamento, as mães marisqueiras sofrem com sérios problemas de pele e ginecológicos, que as impedem de cuidar como gostariam de seus filhos, além de outros empecilhos aos cuidados infantis.
“Aqui só tem um clínico geral uma vez por mês e mesmo assim não tem vagas para toda a comunidade. São apenas 10 fichas por vez numa comunidade com centenas de marisqueiras. Não tem sequer um pediatra que atenda as crianças, nem ginecologista para atender as marisqueiras. Tem escola, mas não tem creche, nem sempre tem transporte para levar as crianças à escola, e quando chove, é complicado”, destaca a marisqueira Cristiane Vieira Dias, moradora do povoado Muculanduba, em Estância, região Centro-Sul de Sergipe.
Cristiane se entristece ao falar sobre maternidade. “Eu me sinto triste por saber que muitas vezes, depois que eu fui mãe, eu esqueci que sou mulher. Não tenho tempo, preciso trabalhar para sustentar minha casa, deixar as crianças com minha filha mais velha ou com minha sogra, porque não tem uma creche na comunidade. Não sei nem dizer direito o que sinto, acho que é um misto de angústia e de medo que nada disso mude. O Poder Público só vê o centro da cidade, onde chama o turismo, mas não vê que nas comunidades ribeirinhas também tem gente, tem mãe lutando por saúde e por educação. A gente se sente humilhada”, afirma Cristiane.
Antes de mães, mulheres: autonomia e independência


Jielza, Cleide e Cristiane têm nomes, rostos e identidades próprias. Mas, suas histórias se espelham com a de milhares de mulheres que são mães no Brasil e compõem os segmentos sociais mais vulnerabilizados pelo aprofundamento do neoliberalismo e do Estado mínimo, com o desmantelamento de políticas públicas sociais e corte de investimentos nas áreas essenciais à manutenção da vida humana.
Enquanto caminham, elas carregam sob seus lombos as missões de cuidar, alimentar e educar seus filhos sozinhas, vender sua força de trabalho, colocar comida na mesa e administrar a rotina da família. Ao lado delas e sobre suas cabeças, o eterno companheiro: o sentimento de culpa por não conseguir se encaixar no folheto cor de rosa da mãe feliz e realizada.
A assistente social Juliane Barbosa, que tem experiência na execução de políticas públicas na área da Educação, as medidas são essenciais para ajudar a minimizar a injustiça social que impacta a vida dessas mulheres. Porém, é preciso ir mais além. “As políticas públicas são fruto de muita luta da classe trabalhadora para que o Estado dê respostas e garanta direitos. Porém, quando se trata das mulheres, elas ainda são pensadas sob uma perspectiva patriarcal. Focadas principalmente em garantir serviços de saúde para uma mãe que consiga reproduzir e sobreviver enquanto cuida da casa e dos filhos, mas ainda assim carregando essa sobrecarga. É importante que haja políticas voltadas à autonomia da mulher e uma maior responsabilização do próprio homem no cuidado com os filhos”, explica Juliane.
A assistente social cita como exemplo o Programa Bolsa Família (PBF), uma política social de caráter distributivo que visa a transferência direta e indireta de renda para famílias em situação de pobreza. Criado há 20 anos pelo atual presidente Lula em seu primeiro mandato, o Bolsa Família ajudou cerca de 36 milhões de pessoas a saírem da miséria, além de ter contribuído com a redução da mortalidade de crianças de 1 a 4 anos em 16% – em famílias com mães negras e nos municípios mais pobres, a redução chegou a 26% e 28%, respectivamente -, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Os números revelam o impacto positivo do programa na vida dos grupos sociais mais vulneráveis. Porém, Juliane alerta para as limitações de políticas públicas sociais que continuam sobrecarregando a mulher no papel de cuidadora exclusiva. “Quando o Bolsa Família surgiu, quem sacava o benefício era o homem, que em muitos casos não repartia o recurso com a família e utilizava para fins individuais. Depois de muita luta, a beneficiária passou a ser a mulher, porque no fim das contas é ela quem cuida da casa e dos filhos. É um benefício importante no sentido de suprir urgências. Porém, continua reforçando que é papel da mulher cuidar da casa e das crianças, e isenta o homem das responsabilidades. Ela passa a ter um auxílio, mas continua com a sobrecarga e sem a oportunidade de ter direitos trabalhistas. Ainda há muita luta sendo travada para que o Estado possa garantir políticas voltadas à mulher que não seja unicamente nesse sentido, mas que possa também promover a autonomia dessa mulher. E essas políticas não são priorizadas”, destaca a assistente social.
Para ela, o exercício da maternidade precisa ser estimulado de maneira que essa mãe também seja vista como uma mulher, não só sujeita de direitos, mas também como um ser humano que tem vida própria, sonhos, anseios, uma identidade própria. “Como mãe, mulher, trabalhadora, penso em políticas com uma perspectiva mais abrangente. Faltam políticas para essas mulheres numa perspectiva de garantir independência, autonomia, e não de reforçar o papel delas unicamente enquanto donas de casa, mães, responsáveis pela criação dos filhos. Elas podem ter alimento, creches, escolas para seus filhos, mas também oportunidades de trabalho com jornada reduzida, por exemplo. Essas mulheres também precisam viver e ter qualidade de vida”, complementa Juliane.
Imagens do Dia das Mães da ocupação na Cabrita, em São Cristóvão.





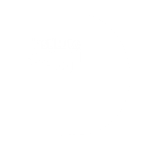
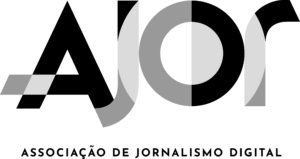



Uma resposta
Matéria importante da Mangue Jornalismo, trazendo um tema recorrente de mães que vivem na invisibilidade de uma sociedade burguesa por conta da ausência de políticas públicas voltadas para esse e outros segmentos… É triste e real…