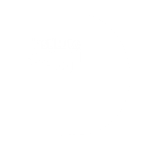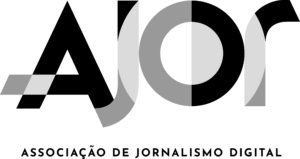Éramos Tupinambá, Kiriri, Fulkaxó, Boimé, Karapotó, Kaxagó, Caeté, Aramuru, Xokó e mais de uma dezena de outros povos originários a viver em terras que hoje constituem o estado de Sergipe.
Éramos muito mais de 20, 30, 40 mil quando da chegada dos invasores europeus por volta de 1530, ou até antes. Muitos outros indígenas, fugidos da escravização na Bahia, foram ainda acolhidos por estas terras.
Toda a diversidade de povos e de culturas em Sergipe foi objeto de ódio, escravização, massacres e genocídio. Além do intenso extermínio físico, os primeiros sergipanos foram vítimas de um perverso e permanente apagamento histórico.
Sergipe nasce como estado elitista, um latifúndio lavado em sangue indígena, um grande cemitério de mulheres e homens martirizados e que, ao longo do tempo, consolidou uma forte política de apagamento dessa mesma história.
Não restou nenhuma comunidade indígena originária
A violência contra os povos indígenas em terras sergipanas foi tão absurda que em Sergipe não restaram muitos traços diretos das primeiras comunidades originárias.
Depois de mais de 400 anos do grande massacre em 1590, que a história oficial aqui trata como a “Conquista de Sergipe”, somente nos anos 1980, cerca de 200 caboclos dispersos na divisa com Alagoas, passam a se reconhecer como povo Xokó, fixando-se na Ilha de São Pedro, em Porto da Folha e, depois, tornando-se uma comunidade indígena oficial em Sergipe.
“O que se conhece sobre os Xokó é resultante do encontro e desencontro entre índios, negros e brancos”, escreve a sergipana Beatriz Dantas, uma das mais importantes antropólogas brasileiras.
Além dos Xokó, muito recentemente, os Fulkaxó e os Kaxagó, em povoados no município de Pacatuba, também começaram a se reconhecer e a se organizar em comunidade. Muitos deles são caboclos dispersos, alguns retornando de terras alagoanas.
Mesmo diante de extremas violências físicas e étnicas, Sergipe nomeou lugares de Japaratuba, Siriri, Pacatuba, Muribeca, Aperipê, entre outros, nomes de lideranças indígenas escravizadas, torturadas e assassinadas pelas mesmas elites que os homenageiam, como uma espécie de troféu dada aos vencedores. Aliás, cinicamente Sergipe é também nome indígena, “rio dos siris”, em Tupi. O brasão do Governo de Sergipe conta com uma ilustração do cacique Serigy, escravizado e barbaramente morto pelos invasores. A simbologia indica os indígenas como “colaboradores” da civilização. No símbolo, Serigy está embarcado em um balão. Certamente foi embora para nunca mais voltar.
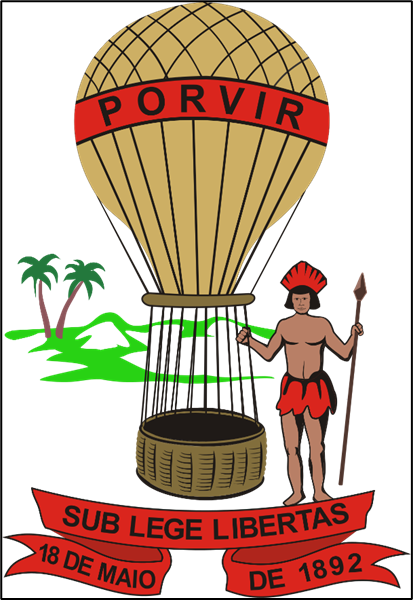
O “porvir” escrito no símbolo faz referência a um futuro, certamente sem indígenas. A data que conta no brasão (18 de maio de 1892) é a da primeira constituição do Estado e a inscrição em latim Sub Lege Libertas (Sob a Lei a Liberdade), o que poderia ser também uma cínica ironia diante do cacique Serigy.
Narrativa das elites: história escrita pelos “vencedores”
O professor Antônio Wanderley de Melo Corrêa, um dos autores do livro didático História de Sergipe (3ª ed. 2022), esclarece que a história, de um modo geral, é escrita pelos vencedores. O que se costuma denominar é a narrativa e o discurso ideológico dos dominadores.
“Mas a historiografia sergipana trabalha sobre o tema com honestidade. Felisbelo Freire, em ‘História de Sergipe’ (1ª ed. de 1891) e Beatriz Góis Dantas em ‘Terra dos Índios Xocó’ (1980), entre outros, trazem relatos e análises esclarecedoras sobre o extermínio e o etnocídio dos indígenas de Sergipe”, informa Antônio Wanderley.
Para o professor, as elites, seja a aristocracia dos senhores de terras seja burguesia urbana, sempre discursaram fazendo omissões que lhes interessavam e distorções que lhes eram convenientes. Esse é o caso da narrativa da inexistência de “índios puros”, que foi sistemático entre autoridades, imprensa, aristocratas e até intelectuais no século XIX, estendendo-se por décadas do século XX.

“Assim, o indígena que vestia roupa, assistia missas, falava o português e tinha a cor da pele branqueada ou enegrecida, não era mais reconhecido como ‘índio puro’, era qualificado como ‘caboclo’, logo, um não-indígena”, analisa o professor.
Antônio Wanderley reforça que Sergipe registrou um permanente massacre contra os povos originários e o resultado disso é que Alagoas, um estado vizinho e com uma população e território equivalentes ao nosso, tem mais de uma dezena de povos indígenas reconhecidos oficialmente, mas em Sergipe só existe um. “É importante registrar que os indígenas de Sergipe não foram ‘colaboradores da civilização’. Eles tentaram sobreviver no mundo que não era mais deles, tendo que se adequar ao modelo dos colonizadores portugueses e, posteriormente, ao da sociedade nacional”, destaca.

Os três grandes massacres contra os indígenas em Sergipe
A história oficial, contada por vencedores brancos e seus intelectuais formados por uma cultura eurocêntrica busca fixar os povos originários como animais, sem alma e que somente servem para a escravização. Além disso, transforma a invasão saqueadora em “colonização” e “conquista”; a escravização em “colaboração com a civilização cristã”; os assassinatos e genocídio dos indígenas em “guerra”; os massacres e destruição em “conquista de Sergipe”; as resistências em “incivilidade”.
E mais, Cristóvão de Barros, chefe do maior massacre contra indígenas registrado na história de Sergipe em 1590 ganha condição de herói da “conquista”, tem nome de cidade – que foi a capital – e escolhe o nome da padroeira de São Cristóvão de Nossa Senhora da Vitória, para “agradecer” pela vitória no extermínio de povos indígenas em Sergipe e a tomada de suas terras.
A história de Sergipe é marcada por três grandes massacres, parte de uma narrativa não dita ou, pelo menos, propositadamente não tão visível para a maioria dos sergipanos.
Vale registrar que a violência é ponto de partida e chegada em Sergipe
Antes da invasão europeia em terras que seriam sergipanas, a literatura já revelava como o mundo “civilizado” e a igreja Católica fabricavam os indígenas.
Ariosvaldo Figueiredo, em “Enforcados” (1981), escreve que eles eram tidos como “piores que feras”, “maliciosos e ferinos” (frei Rafael de Jesus), “asnos” (padre Richard Fleckno), “bestiais” (padre Gonçalo Alves), “mais irracionais que os próprios brutos” (frei Jaboatão). Os relatos são inúmeros.
A construção dessa imagem como animal, perverso, antropófago é vital para o colonialismo justificar toda e qualquer violência, principalmente para transformá-lo em escravizado. Ele é arrancado, separado e torturado para carregar madeira, cana-de-açúcar e outros corpos indígenas, as “riquezas coloniais”. Essa violência mais cruel e absurda produz também a resistência indígena. Alguns grupos chegam a obter vitórias contra os portugueses em batalhas no sul de Sergipe.
A firmeza indígena era tanta que os portugueses, recuados na Bahia, resolveram inserir na estratégia escravagista a catequese como uma forma de reduzir a resistência dos povos nativos em Sergipe.
Em 1575, enviados pelo império, chegaram ao rio Real os experientes jesuítas Gaspar Lourenço e João Salônio junto com outros religiosos, “uma companhia de soldados”, “um capitão e algumas praças”. Mesmo com a desconfiança dos indígenas, eles conseguem levantar pequenas igrejas próximas às aldeias.
Antônio Lindivaldo, professor de História na Universidade Federal de Sergipe (UFS), conta em seu excelente trabalho “Temas da História de Sergipe” (2007) que eram inúmeros os povoamentos dos primeiros habitantes na costa sergipana, antes da chegada dos jesuítas. Os relatos deixados por cronistas mostram povos como os Tupinambá, por exemplo, organizados em aldeias com casas coletivas, rituais, símbolos, regras sociais e políticas, divisão do trabalho.
As missões dos “soldados de Cristo” em 1575 objetivavam fazer com que os indígenas se reconhecessem pecadores e aceitassem a violência do trabalho escravizado, transformando-se em colaboradores da “civilização”, um modo de “pagar por seus pecados”. Os indígenas em Sergipe também resistem, o que faz demorar a tomada definitiva das terras pelos invasores e o aprisionamento em massa para a escravização. Em razão disso, cria-se a ideia de que Sergipe estava tomado por povos incivilizados e irrecuperáveis, o que fez nascer o primeiro massacre.

O primeiro grande massacre
Dois falsos argumentos foram utilizados por Portugal para justificar o primeiro grande extermínio de povos indígenas em Sergipe: que piratas franceses avançaram sobre as terras em conluio com os nativos e que indígenas Caeté que teriam devorado dom Fernando Sardinha no litoral nordestino estariam em terras sergipanas.
Na verdade, Luiz de Britto, governador das capitanias do Norte, queria tomar posse de fato de Sergipe, fazendo a ligação com suas terras que iam da Bahia à Pernambuco. O obstáculo era a resistência indígena aqui.
Deixa nítido Figueiredo (1981) que Luiz de Britto não está interessado em nenhum projeto de povoamento em Sergipe, apenas escravizar indígenas, saquear o que puder, tomar as terras da região e implantar o gado.
“A política de extermínio do silvícola, concertada pela Metrópole, encontra em Luiz de Brito e Almeida, seguidor exemplar. Ele faz a guerra em Sergipe. Os portugueses armados, municiados, avançam nas terras, escravizam os nativos, tomam as suas mulheres, queimam as aldeias, transformam a paisagem em cinzas, cobrem o chão de cadáveres, a igreja de São Tomé vira cárcere, mais de 1.200 índios detidos, presos, logo transportados para a Bahia. Morre o chefe Surubi, Serigi (Baopeba) embrenha-se nas matas, Aperipê, com sua gente, também foge, o Governador o segue ‘50 léguas pelo sertão sem lhe poder dar alcance” (Frei Vicente do Salvador). Não se ouve a voz dos jesuítas, silenciosos, mudos, não protestam contra a carnificina portuguesa” (FIGUEIREDO, 1981, p. 44).
Em 1576, Sergipe já era uma terra arrasada: muitos indígenas assassinados e os sobreviventes escravizados ou escondidos nas matas do sertão. Parte do território, adubado pelos corpos e regado pelo sangue dos povos originários, é ocupado por colonos que iniciam a formação da elite sergipana, “curraleiros” que avançam na tomada das terras dos indígenas e destruição das matas para transformação em pastos para o gado.
O maior latifundiário em Sergipe foi Garcia D’Ávila, dono da Casa da Torre. Entretanto, as resistências indígenas sempre se renovam. São inúmeros os relatos de ataques aos rebanhos e as plantações. Os prejuízos eram permanentes e significativos para os invasores. Batalhões inteiros mandados da Bahia foram derrotados em terras sergipanas. Essa resistência mobilizou os latifundiários, especialmente Garcia D’Ávila para preparar e executar o segundo grande massacre em Sergipe, o que a história oficial chama de “Conquista de Sergipe”, de 1590.

O segundo grande massacre
As justificativas do império para uma grande operação contra os indígenas em terras sergipanas estavam dadas: a região possuía amplas e boas terras para o pasto, mas muitas delas ainda estavam sob o controle dos indígenas; os nativos ainda eram muitos, violentos e incivilizados; os ataques aos currais eram cada vez maiores; a comunicação entre Bahia e Pernambuco estava prejudicada por conta das ações dos indígenas de Sergipe; os piratas franceses ainda faziam negociações com os nativos. Além disso, surge a descoberta em salitre entre o rio Real e o São Francisco, minério fundamental na fabricação da pólvora.
Parte da história oficial ainda acrescenta outra justificativa para o segundo grande massacre em Sergipe. Trata-se de uma vingança do bandeirante Cristóvão de Barros que teria o seu pai morto pelo povo Caeté no rio São Francisco, em 1556. “A vingança não sobreviveria sem materializar-se por mais de trinta anos. O que existe, simplesmente, é a ambição colonialista, ambição que gera a ação militar”, avalia Figueiredo (1981, p. 48).
Cristóvão de Barros parte da Bahia para Sergipe financiado por Garcia D’Ávila e outros latifundiários motivados por escravizar indígenas e, principalmente, tomar definitivamente as suas terras.
Felisberto Freire, em História de Sergipe (1977, p. 81) escreve que junto com Cristóvão de Barros toma o rumo de Sergipe armado até os dentes, com grande quantidade de soldados, com várias peças de artilharia e muitos “habitantes de Pernambuco e Bahia, estimulados pela possibilidade de escravizar os índios”. Pernambuco já era um grande exportador de açúcar e estava faminto por escravizados, o mesmo acontecendo com a Bahia com grande cultivo de cana e engenhos se multiplicando.
Foram registradas várias batalhas em 1589. A resistência dos indígenas era heroica, mas o poderio bélico do exército de Cristóvão de Barros se impunha. Não demorou e a carnificina se confirmou logo em 01 de janeiro de 1590. Centenas de indígenas mortos e outros tantos escravizados. A história oficial apresenta um número de 2.400 nativos assassinados, centenas fugiram e outros 4 mil presos, torturados e escravizados. Figueiredo (1981) sugere que foram 10 mil indígenas escravizados.
O chefe Siriri morre na luta e Serigy (Baepeda), preso, teria feito greve de fome até morrer. Também morrem em luta os caciques Surubi e Aperipê. Muitos dos nativos que conseguem fugir são capturados por bandeirantes, escravizados e mortos. Sergipe é uma terra arrasada, lavada em sangue indígena, com suas terras repartidas pelos latifundiários que transformam as matas em enormes pastos e currais.
Lindivaldo lembra que a coroa portuguesa também pagou quantias em dinheiro para os que participaram da “guerra”, atraindo recompensas, títulos e empregos. Cristóvão de Barros, líder de todo extermínio, possui 4 mil indígenas, instala definitivamente em 1590 a Capitania de Sergipe del-Rey, funda um forte e um arraial junto ao rio Poxim, que é o começo da cidade de São Cristóvão. O clero que acompanha Cristóvão de Barros levanta igrejas e a padroeira do lugar passa a ser Nossa Senhora da Vitória.
O terceiro e permanente grande massacre
Depois de 1590, inicia-se um longo e permanente massacre de apagamento físico e identitário dos indígenas sobreviventes em Sergipe. A primeira ação foi tomar as terras dos povos originários e consolidar os latifúndios. Lembra Lindivaldo (2007) que várias expedições continuaram perseguindo os indígenas em direção ao São Francisco. “As aldeias que restavam eram destruídas, desaparecendo as roças. As terras arrebatadas pelos brancos colonizadores, através das sesmarias, foram ocupadas pelas boiadas, cultura de subsistência e canaviais”.

Em 1759, Marcos de Noronha expulsa os jesuítas de Sergipe e há uma verdadeira caçada aos indígenas que ainda se tinham se convertidos em “gente civilizada”. A elite sergipana patrocina ataques a Aldeia Água Azeda, próximo de São Cristóvão e a de Vila do Tomar, esta última possuía o maior número de indígenas em Sergipe. A Carta Régia de 1798 garantia que indígenas sem estabelecimento próprio e sem ocupação fixa deveriam ser obrigados ao trabalho público ou particular.
Toda máquina da província de Sergipe é mobilizada para perseguir os indígenas que ainda resistiam próximos às cidades. Em 1825, por exemplo, o presidente da província Manoel Clemente Cavalcanti de Albuquerque, alegando que os indígenas próximos a capital estão “entregues ao ócio e à embriaguez, só vivem da rapina”, ordena que todos sejam mandados para Tomar do Geru. Outros indígenas são obrigados à escravização no Exército e na Marinha. Lei de 27/10/1831 manda fazer guerra e colocar em servidão os indígenas selvagens.
É um processo paralelo, caçada sem trégua aos indígenas em Sergipe e a tomada e regularização de suas terras pela elite sergipana. Muitos nativos, para sobreviver à extrema violência destrutiva da vida e da identidade, buscam serem reconhecidos como caboclos.
Beatriz Dantas (1997) fala do Aviso 172, de 21 /10/ 1850, do Ministério dos Negócios do Império, que “manda incorporar aos Próprios Nacionais as terras dos índios, que já não vivem aldeados, mas sim dispersos e confundidos na massa da população civilizada”. Era o caso de Sergipe e Ceará. O presidente de Sergipe, José Antônio de Oliveira e Silva informa à Secretaria de Estado dos Negócios do Império em 18/03/1853 que não existe “nesta Província índios selvagens, estando os antigos aldeados confundidos na massa da população”, e solicita a extinção da Diretoria Geral dos índios, o que ocorre em 1853.
Em um Relatório da Assembleia Provincial de 1877, o então presidente de Sergipe José Martins Fontes afirma: “Não existem na Província índios, verdadeiramente tais; há uma casta mestiça, domesticada, vivendo em sociedade, em aldeias e vilas, civilizados e instruídos em princípios religiosos, como é a maior parte da população de Sergipe”.
Há um permanente extermínio físico dos povos e comunidades indígenas em terras sergipanas e uma ação coordenada e sistemática de negação da existência de indígenas em Sergipe, o extermínio da memória. Para Dantas (1991, p. 38), “dois processos paralelos se desenvolvem concomitantemente à conquista e à colonização: o genocídio, que é o massacre de populações nativas; e o etnocídio, que é a destruição sistemática de suas culturas”.
“Não conseguiram calar nossa voz”
Itamar Peregrino é indígena desaldeado do povo kariri. Ele busca reforçar sua condição no diálogo permanente com seus parentes em Sergipe e, principalmente, fora do estado, e com estudiosos sobre a questão indígena. Ele analisa a permanente matança contra os povos originários, com o objetivo de apagamento, “mas não conseguiram calar nossa voz, não conseguiram nos apagar”, afirma Peregrino, que é comunicador, educador popular e artesão.

Referências
DANTAS, B. G. Os índios em Sergipe. In: DINIZ, D.F.L (org.). Textos para a história de Sergipe. Aracaju: UFS/Banese, 1991. p. 19-60.
DANTAS, B. G. Xokó: Grupo Indígena em Sergipe. Aracaju: Gráfica Opção, 1997.
FIGUEIREDO, A. Enforcados: o índio em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. (Coleção Estudos brasileiros; v. 52)
FREIRE, F. História de Sergipe, 2a. ed., Petrópolis: Editora Vozes Ltda., 1977.
SOUZA. A. L. Temas de História de Sergipe. São Cristóvão: UFS CESAD, 2007.