MARCEL REGINATO, especial para Mangue Jornalismo
A seção PONTO DE VISTA é um espaço que a Mangue Jornalismo abre para que pessoas convidadas possam expressar ideias e perspectivas que estimulem o interesse e o debate público sobre uma temática. O artigo deve dialogar com os princípios da Mangue (que estão na parte de transparência do site), entretanto ele não precisa representar necessariamente o ponto de vista da organização.
Corria o ano de 1959 quando Jackson do Pandeiro (1919-1982) gravou Chiclete com Banana, de autoria do baiano Gordurinha. “Antena da raça” na melhor acepção poundiana*, o genial artista paraibano dava expressão de resistência ao que já se podia qualificar como um processo de franca dominação econômica, e cultural, articulada pelos emergentes donos do mundo pós-guerra, os EUA.
A letra de um então inusitado samba-rock questionava habilmente a política de boa vizinhança lançada por Roosevelt ao desafiar: eu quero ver o Tio Sam de frigideira/ numa batucada brasileira. Jackson lembrava a um país deslumbrado pelo irmão loiro do Norte que boa vizinhança é relação de proximidade, de igualdade, não de senhorio. Se os portugueses do século XVI nos regalavam, ainda na areia das praias, com espelhos e cacarecos, os britânicos do século XIX já dispunham de portos para nos entulhar com os têxteis e as bugigangas de sua Revolução Industrial.
Em meados do século XX, porém, os norte-americanos contavam com um mercado consumidor formado por mais de 50 milhões de “vizinhos” brasileiros prontos para se encantar com o american way of life**. Se os EUA regeram por décadas, hegemonicamente, um processo contínuo de exploração de mercados e de acumulação capitalista, coube em grande parte às suas corporações privadas padronizar modelos de distribuição e consumo.
O consumo midiático foi fundamental ao progressivo processo de dominação cultural. Uma assimilação que ganhou contornos de sequestro do imaginário social de um nascente Brasil urbano e diante do qual desenvolvemos uma resiliente “síndrome de Estocolmo”. Os indígenas de Pindorama nos apaixonamos por um John Wayne armado até os dentes. Papagaios sambistas e indolentes trajando camisa listrada, aprendemos a beber Coca-Cola, a escovar os dentes com Kolynos e a curar nossas dores com Melhoral (que era melhor e não fazia mal).
Entre as décadas de 50 e 70, as exportações americanas para todo o mundo quadruplicaram. Em 1950, as filiais de multinacionais americanas eram 7,5 mil; em 1966, esse número havia saltado para 23 mil. Na América Latina, 300 filiais de empresas eram responsáveis por 90% do total de investimentos dos EUA na região. A despeito do nome da publicação, o que iluminava as páginas e os anúncios da brasileiríssima revista O Cruzeiro era a iconografia onipotente do letreiro instalado (desde a década de 20) em uma montanha californiana.
Hollywood passava a ser o farol da fração da humanidade (o “mundo livre”) que tivera a felicidade de escapar da escuridão projetada pela “cortina de ferro” soviética. Devidamente encobertos os canhões (dissimulado o hard power americano), entra em cena um simulacro de diplomacia, instrumentalizando a colossal produção da indústria cultural americana para fixar posicionamento vantajoso em um mundo bipolarizado. Uma operação de branding para lá de eficiente, como é chamada a gestão de marcas no jargão anglófilo hoje inerente à atividade publicitária.
A década de 50 é apontada como o marco da “chegada do marketing ao Brasil”, como campo de estudo nas universidades, mas sobretudo pelas mãos de grandes multinacionais que passaram a se organizar com base no planejamento de marketing e não mais nos departamentos de vendas.
Para nós, “vizinhos” do Sul (que, para os EUA, moram em um seu quintal e são mantidos sob controle por golpes de Estado), o soft power (o “poder brando”, sem brandura) uniformizou desejos, comportamentos e o modelou o ideário de consumo. Da música ao cinema; do vocabulário ao modelo de masculinidade, da moda à alimentação. Outrora denominado “mercadologia”, o marketing escancarava os dentes para conquistar corações e mentes.
Se os nossos avós escovavam os dentes com Kolynos e Colgate (lidos assim, em português, e não Kolainos ou Colgueite), nossos pais já pediam uma Sprite com a pronúncia correta (uma “Spraite”) e trocaram suas calças “rancheiras” por jeans (“djins”). E nossos filhos “millenials” ou da “geração Z” desejam todos se tornar “digital influencers” ou “CEOs de uma startup”, desde que possam, obviamente, trabalhar em regime de “coworking em sistema de home-office com seus notebooks”. Para ser tão envolvente, o capitalismo sempre foi insidioso.
Na corrida para “misturar Miami com Copacabana” (olha o Jackson do Pandeiro novamente), a classe média fez prosperar, já a partir da década de 60, mas com uma expansão explosiva na década de 70 e 80, os cursos particulares de inglês, com a criação de marcas e a capilarização de unidades pelo sistema de franquias.
O Halloween, em si, pode ser divertido. Mas é também um espetáculo de horror
Essa foi a porta de entrada (natural) para a celebração, as brincadeiras e as alegorias do Halloween no Brasil. Festa pagã de origem celta que marcava o fim do verão, o Halloween foi capturado pelo cristianismo e disseminou-se pela Europa ao longo do medievo para atravessar o Atlântico com a massificação da imigração de irlandeses para a América do Norte. Ressignificado nos EUA na década de 20 do século passado, se popularizou no formato hoje incorporado por grande parte do planeta, com os pedidos de doce, de porta em porta, e a utilização da senha “trick or treat” (doçura ou travessura).
Em uma reprodução da lógica de penetração cultural impulsionada por uma operação de marketing, no Brasil sequer houve espaço para a popularização prévia de um “Dia das Bruxas”. Foi o Halloween, com suas letras dobradas e pronunciado em inglês que ganhou lugar no cotidiano das escolas, do comércio e que vai agora se incorporando, mais e mais, aos lares e espaços sociais brasileiros.
Saídas dos subúrbios norte-americanos, as abóboras, caldeirões e máscaras de Freddy Krueger chegaram (agora made in China) ao G. Barbosa e já se insinuam no comércio popular, na Rua Santa Rosa, ali pelos lados dos Mercados de Aracaju.
O Halloween, em si, pode ser divertido. Mas é também um espetáculo de horror sob os mais variados ângulos. Difícil é não identificar uma conexão com a cafonalha nacional sempre rediviva, radicalizada agora pelo bolsonarismo e seu culto vira-latas à América em uma festa com tantos adereços simbólicos vendidos pela Walmart. Um percurso histórico que liga (cromática e ontologicamente) o Zé Carioca “malandro” de Walt Disney ao “Véio da Havan” e suas mais de 70 Estátuas da Liberdade de plástico espalhadas pelo país. Acredite: o Brasil é o país com o maior número de Estátuas da Liberdade em todo o planeta e a efígie instalada na loja Havan de Barra Velha (SC) é atualmente o maior monumento da nação.
É largamente conhecido que a imagem que temos de Papai Noel foi delineada pelo marketing da Coca-Cola, mas este fato não tem o condão de transformar o bom velhinho em inimigo da brasilidade e transmutar o seu significado em nossa memória afetiva.
Guardadas as devidas proporções, o Halloween mostra um potencial comercial que seguirá sendo incansavelmente operado para converter-se em mais uma “data de oportunidade” fincada em nosso calendário comercial. Dificultoso imaginar uma contraposição direta a processos dessa natureza. O imaginário coletivo que foi moldado para naturalizar um Papai Noel nórdico, trajando espessas roupas de inverno sob a neve de isopor de shopping centers permaneceu indiferente enquanto as placas de “sale” liquidavam a palavra “liquidação” nas vitrines natalinas. E nada deve alterar essa indigência cultural, se levarmos em conta que muitos de nós já estamos nos habituando a um tal de Boxing Day, que acontece, curiosamente, no dia seguinte ao Natal em um país do Norte.
Black Friday já está plenamente integrada ao “final de ano” dos brasileiros
Da mesma forma, outra “novidade”, apesar de introduzida pelos americanos apenas em 2010, já se encontra plenamente integrada ao “final de ano” dos brasileiros: a Black Friday (em inglês mesmo, já que o consumidor contemporâneo já está mais do que acostumado).
O evento, de progressiva dimensão, representa uma data de oportunidade não para os consumidores, mas sobretudo para o comércio varejista desovar seus produtos ardilosamente, por meio de preços inflados, falsas promoções e golpes os mais variados. E, ainda que conviva com apelidos como “Black Fraude”, pesquisa realizada pelo Mercado Livre aponta que nada menos do que 85% das pessoas planejam comprar na Black Friday no final de novembro (cinco pontos acima de 2023), gerando entusiasmo entre as empresas, mas também entre os bancos que financiarão essa corrida de consumo com juros de 400%. Os profissionais de marketing sabem das coisas.
Talvez isso explique por que o saci, citado no título e personagem central do dia 31 de outubro, tenha demorado tanto para ingressar nessas linhas. É que a figura do saci merece uma apresentação contextualizada. Curiosamente, sua presença nunca é claudicante. É saltitando vigorosamente sob uma perna que o saci foi inscrito no imaginário coletivo nacional, ainda que um filtro geracional concorra agora para embaçar uma associação que sempre foi imediata e desimpedida para os brasileiros mais maduros.
Segundo o mais célebre folclorista brasileiro, Câmara Cascudo, em seu clássico Dicionário de Folclore Brasileiro, de 1954, a lenda surgiu apenas no século XIX. O saci nasceu indígena (protetor da natureza), ganhou um gorro mágico europeu (como um duende celta), tornou-se negro e passou a fumar um cachimbo (africano). A explicação para a perda de uma de suas pernas varia: é resultado de uma luta de capoeira ou foi arrancada pelo próprio saci como forma de se livrar das correntes a que estava preso.
Monteiro Lobato viria a dar a sua forma mais popularizada no livro “O Saci”, de 1921, mas em 1917 já publicara “O Sacy-Pererê: resultado de um inquérito”, com descrições colhidas pelo autor entre os leitores do jornal O Estado de São Paulo.
Controvérsias à parte sobre o viés racista da descrição consagrada por Lobato, é de sua lavra a caracterização que povoou o imaginário de diferentes gerações. O saci é um ser mágico e a imagética que suscita é plena de significados vinculados às forças da natureza. Há “sacis e sacis”, mas normalmente a criatura surge em meio a redemoinhos de vento, faz traquinagens com cavalos ao ar livre e não atravessa os corpos de água.
Essa caracterização conduz a uma inferência: criança negra sem uma perna, insubmisso e brincalhão, inteligente e ágil, ligado à natureza, o saci é um brasileiro que é pura resistência. Dado a traquinagens por inclinação, o Saci as comete gratuitamente ou, como assevera Tio Barnabé, “o saci não faz maldade grande, mas não há pequenina que não faça”.
Diferentemente das “bruxas e monstros” do Halloween, que lançam ameaças de porta em porta (“se você não tiver doces para me dar, eu vou aprontar algo contra você”), o saci quer apenas se divertir e acaba nos divertindo a todos. Como um missionário, o Halloween leva até sua porta o “dá ou desce” do capitalismo protestante estadunidense.
O saci é mais leal e muito mais legal
Se o Dia do Saci não tem o potencial bélico de contraposição em meio à guerra cultural que se trava nessa quadra histórica lamentável, a data reflete inegavelmente a explosão da luta pela afirmação da força da cultura popular brasileira. É isso que identificou a Sociedade de Observadores de Saci (Sosaci), fundada em 2003, em São Luiz do Paraitinga, município paulista de forte tradição cultural. Naquele mesmo ano, uma lei do município tornou o 31 de outubro (data em que se celebra o Halloween), o “Dia do Saci”.
Em 2004, a Assembleia Legislativa de São Paulo replicou a Lei e a estendeu para âmbito estadual. Em 2017, o historiador carioca Chico Alencar, deputado federal (PSOL) apresentou Projeto de Lei (8985/17) que passou a tramitar em conjunto com o PL 2762/2003, de autoria de Aldo Rebelo, viando nacionalizar a data. Em 2014, a Associação Nacional dos Criadores de Saci perfilou-se a Sosaci para tentar fazer do personagem mascote da Copa do Mundo. Não obtiveram êxito.
Passados dez anos, hoje o slogan “Halloween é o cacete! Viva a cultura nacional!” vai “bombar nas redes”. Certamente menos do que as imagens padronizadas e “instagramáveis” de Halloween, mas o suficiente para mostrar que o saci nunca deixará o cachimbo cair.
Como bom brasileiro, porém, para capturá-lo, ensina um Monteiro Lobato fiel a nossa ancestral tendência de aprisionar e submeter crianças negras, é muito simples: basta jogar uma peneira sobre o redemoinho em que ele surge e mantê-lo aprisionado em uma garrafa.
É triste, mas o saci não pode enfrentar uma simples peneira e, como outros muitos outros povos subjugados, talvez não consiga fazer frente à maior máquina de guerra e marketing já criada na história da humanidade em pé de igualdade. Contudo, sua figura resgata a dimensão simbólica de um Brasil que poderia ter sido mais livre, alegre e indócil, ainda que mutilado e perseguido. Um país que se mantivesse firme, ainda que apoiado sobre uma única perna. Afinal, é a cultura popular que continua a nos fornecer uma base de sustentação sólida e estável para o combate à ignorância e ao rebaixamento civilizacional.
Hoje, 31 de outubro, é dia de quebrar a garrafa e de torcer para que, livre, o saci gere redemoinhos que arrastem as abóboras de plástico, as teias de aranha, as máscaras de psicopatas e americaníssima família Adams (entre outras famílias de monstros) para bem longe de nossa vizinhança. Ainda há esperança. Ainda que ela pule em uma perna só.
*Os artistas são a antena da raça é uma frase cunhada pelo poeta estadunidense Ezra Pound, em 1934, para expressar a capacidade vanguardista de captar o sentido da realidade e transmiti-lo de modo ressignificado.
**American way of life (estilo de vida americano) é o modelo comportamental surgido nos EUA após a Primeira Guerra Mundial. Marcado pelo consumismo e pelos valores do liberalismo. Esfacelado pela crise de 1929, voltou a ser promovido após a Segunda Guerra Mundial.

MARCEL REGINATO é formado em Direito pelo Largo de São Francisco (USP). É publicitário e corintiano.





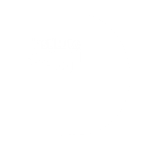
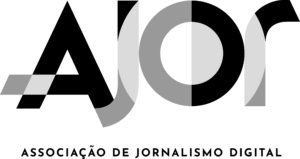



Uma resposta
Sensacional!