
Tendo o punk como referência de uma cultura resistente ao tempo, a banda sergipana The Renegades of Punk reinventa o estilo em terras de Sergipe Del Rey através do que chamam de ‘tropical punk’. Com uma trajetória que atravessa fronteiras e palcos, The Renegades of Punk são conhecidos pelo DIY – Do It Youself, ou Faça-Você-Mesmo, um dos grandes pilares da cultura punk.
Lá nos anos 2010, foram responsáveis pelo iniciar a fagulha do ‘Clandestino’, uma série de shows de rua com a estética underground incorporando o lema de apresentações abertas, sem catraca e sem classificação – uma pegada que, espera-se, continuem praticando após esse importante retorno.
Agora, passados alguns anos de um hiato devido a tarefas de maternagem e paternagem e, logo em seguida, à pandemia, a banda estará de volta aos palcos para um show explosivo que promete reavivar as chamas da rebeldia na próxima quinta, dia 7, no Che Music Bar, ao lado de Dead Fish, Eskrota e Bayside Kings, bandas que vêm do estado de São Paulo em turnê pelo Nordeste.
Subvertendo uma tradição que desde os anos 1970 se adapta a novas gerações e territórios, a banda sempre teve uma postura de desafiar o status quo e assim conquistou corações e mentes da cultura subterrânea Serigy. Suas letras são repletas de reflexões pessoais num contexto em que a ordem do capital impõe a tudo e a todos uma adequação imperativa e quase maquinária à rotina e ao relógio, como num metrônomo.

Nesta entrevista exclusiva à Mangue Jornalismo, a vocalista e guitarrista da banda, Daniela Rodrigues, compartilha sua visão sobre a resistência punk nos dias de hoje, discute a inclusão de mulheres na cena e explora como suas raízes locais e influências diversas moldaram o som único da RoP.
Numa pausa em meio ao “corre” que encampa ao lado de Ivo Delmondes – que, além de seu companheiro de vida e baterista da banda, é também parceiro na jornada do restaurante vegano Om Shanti – Dani fala sobre presente, passado e futuro da RoP, que conta ainda com João Mário no contrabaixo.
Essa é uma conversa franca com uma das vozes mais autênticas do underground sergipano trazendo uma visão única de uma das mentes criativas por trás da música que transcende fronteiras e gerações. Essa é uma história de renascimento, resistência e poder do tropical punk para unir e inspirar a todas e todos que gostam do bom e velho rock rápido.
Importante: Todas as imagens que ilustram essa entrevista são de Victor Balde.
Mangue Jornalismo (MJ) – Como surgiu o impulso de reunir a banda The Renegades of Punk para esse show de retorno e o que podemos esperar dele?
Daniela Rodrigues (DR) – A banda estava parada havia um tempo, porque somos três e dois de nós somos um casal e tivemos uma filha. Tudo ficou um pouco mais difícil depois de 2017. Nos dedicamos a esse momento novo em nossa vida e quanto achávamos que daria pra começar a fazer as coisas novamente, no início de 2020, fomos surpreendidos, como todo mundo, pela pandemia. E aí ficou tudo parado novamente por mais dois anos, mais ou menos. Enfim, coisas da vida foram fazendo com que não pudéssemos priorizar a banda. Fomos interagindo com as pessoas, tendo essa troca com nossos amigos e com vontade de gravar um monte de músicas novas que ficaram pelo caminho nesse tempo todo, retomamos os ensaios com o objetivo de gravar, não era nem voltar a tocar em shows. Bom, apareceram alguns convites e topamos o desafio de tirar a ferrugem e voltar a tocar de novo depois de quatro anos. Não sei o que esperar do show, eu sempre brinco que estamos mais velhos, mais lentos, tentando recuperar o fôlego para cantar e tocar essas músicas que fizemos em outra fase das nossas vidas. Mas é um show de retorno, de recomeço, retomada. Estamos relembrando todo nosso repertório. Esperamos que seja uma noite divertida.

MJ – O punk sempre foi um gênero musical associado à contestação social e política, também abordando questões de justiça social e direitos humanos, além de reflexões pessoas enquanto nesse contexto. Como vocês enxergam o papel do punk nos dias de hoje, especialmente no contexto brasileiro?
DR – O punk, como várias outras coisas, já foi ressignificado, né? Porque também já foi dividido, reconstruído, vendido, copiado, comprado. Então existem várias acepções do termo punk. Mas no geral, na raiz da coisa, falo por mim, mas acho que a banda compartilha minimamente desse raciocínio meu… eu vejo o punk como esse espaço de reflexão, de contestação es principalmente de diálogo. Eu acho que apesar de nossa cena, os ambientes que a gente habita e onde a gente discute as coisas, constrói as coisas é um microcosmos, uma pequena cópia da nossa sociedade, a gente também tem problemas e várias coisas a resolver. Mas acredito que uma coisa que faz com que a gente tente seguir um caminho diferente é o diálogo, lidar com os conflitos, estar disposto a aprender, abrir os ouvidos e a cabeça e poder conversar. Ainda é um espaço muito importante de construção de educação, digamos assim, de aprendizado, e de troca. Acho que o que mais me fascina nesse ambiente é justamente a troca, o quanto a gente pode conhecer pessoas, lugares e coisas e ter um intercâmbio de realidades, pensamentos e um monte de coisa.
MJ – O punk tem um histórico de reivindicar a inclusão, mas também enfrenta desafios em relação ao assédio e machismo, por exemplo, com casos dessa situação inclusive localmente. Como vocês veem a presença das mulheres na cena punk e o papel do feminismo nesse contexto e o enfrentamento do assédio?
DR – Assim com a cena seria esse micro organismo, feita pelas mesmas pessoas que vivem e são criadas em sociedade, a gente tende a ter os mesmos problemas e a replicar ou espelhar os mesmos tipos de problemas. Então como a gente vive num mundo machista, nosso entorno, nossa cena é machista. A diferença é que muitas vezes o machismo está velado, né? E em alguns poucos episódios ele explode ou aparece na superfície, com casos aqui e em vários lugares. Não significa que não existia machismo antes dessas casos aparecerem, apenas que eles eram velados, ou todo mundo – pelo menos os homens – todos eram cúmplices desse momento, até que alguma coisa realmente aparece e todos têm que lidar com isso. O enfrentamento, no meu caso, do jeito que eu encaro as coisas é o mesmo tipo de enfrentamento da sociedade – talvez até um pouco mais, com um pouco mais de crítica, porque a gente está num espaço que se propõe a ser aberto, crítico, diferente, uma contramão, uma contracultura. Então a gente entende que somos todos humanos imperfeitos, criados numa sociedade machista, mas precisamos enfrentar. Assim como enfrentamos no dia a dia, enfrentamos também dentro da cena – não necessariamente com cancelamento ou exclusão, mas muito na perspectiva de “não estamos aqui para educar os homens, estamos aqui para ser consideradas iguais e sermos tratadas com respeito”, exigimos isso e lidamos com as situações de acordo com cada caso especificamente. No sentido geral, é estarmos sempre atentas, sempre combativas, tanto no punk, fora dele, em todas instituições nas quais a gente está imersa. E a participação feminina é uma coisa que pra mim é extremamente importante. Eu prezo muito, busco muito, procuro, semeio e queria que fosse maior. Mas sei que é um contexto complicado. A gente não é ensinada a estar nesses lugares ou a achar que pode fazer essas coisas ou a entender que se os caras te menosprezam porque você é mulher e está tocando, fodam-se eles. Eu sei que existe um contexto complicado, da nossa criação, da gente enquanto sociedade que faz com que menos mulheres estejam nesse ambiente. Infelizmente, somos poucas, mas espero que isso mude. Estou a vida inteira esperando que isso mude (risos). Agora vai ter que mudar.

MJ – Vocês já tocaram em diferentes partes do Brasil e até internacionalmente. Como a experiência de viajar e tocar em diferentes lugares influenciou a banda? Que semelhanças e diferenças pode apontar com essas experiências com o contexto local?
DR – Viajar, tocando dentro ou fora do Brasil, eu acho que foi trazendo pra gente um senso de união, de unidade, pensar que somos muitos. Diversos, mas na mesma frequência. As semelhanças seriam essas. As diferenças são gritantes, brutais, porque em muitos lugares existe já uma cultura, uma contracultura estabelecida, com apoio ou com auto-organização muito boa, com locais e shows, com pessoas envolvidas, uma coisa muito mais orgânica do que o que temos aqui.
MJ – O movimento punk sempre esteve ligado à resistência contra regimes autoritários. Como vocês veem a relação entre punk e resistência política nos dias de hoje?
DR – Eu acho que a resistência política, a contestação, enfrentamento não acontecem obviamente só pela via da contracultura que a gente conhece, do movimento punk, mas em inúmeras frentes. Mas o punk é sim uma frente importante. É um lugar que abraça rebeldia e afetos específicos. Acho que é um espaço muito libertador e de muito aprendizado para todos nós – foi e continua sendo. É um lugar de formação política muito importante e que, por esse e outros motivos, figura como um lugar de resistência, de combate, de crítica. Mas é como eu comentei antes: a gente tem até algumas acepções diferentes do termo, então não necessariamente quando a gente fala punk todo mundo pensa a mesma coisa, o que é muito doido, mas enfim… eu acredito que continua sendo um espaço dissidente, de resistência e de luta, mesmo que a gente viva numa sociedade tão fragmentada e de reivindicações tão diversas.

MJ – O rolê punk de Sergipe tem suas particularidades. Pensando especificamente sobre a como renovação das gerações é fundamental, vocês veem das novas bandas na continuação desse role? Como vocês descreveriam esse role no estado e quais são os desafios enfrentados?
DR – Uma renovação geracional é importante em qualquer atividade, seja artística, acadêmica. Na música, em relação às bandas punk, também é muito importante. Não é uma coisa que eu sinto que aconteça em grande escala ou em escala média em nosso território. Eu e outras pessoas, que somos de outra geração, sentimos muita falta de uma renovação de bandas novas. Obviamente que elas estão aparecendo e tal, mas é um número muito pequeno e uma coisa muito localizada, pontual. Acho que tem a ver com a identificação juvenil que mudou um pouco, do que é tido como uma cultura jovem, rebelde e legal. Não tem muito mais a ver com punk rock, hardcore e rock’n’roll, em termos gerais. O caldo cultural em geral influencia pra que essa renovação seja mais lenta, o que é uma pena. Mas é isso: estamos aguardando, tentando conhecer e apoiar as novas iniciativa que vão aparecendo.

MJ – A subcultura punk muitas está ligada a um estilo de vida DIY. Fala um pouco como vocês aplicam esse princípio na música e nas atividades da banda, especialmente na era digital, como a internet e as redes sociais afetaram a forma como a banda se comunica com quem gosta da banda e alcança um público mais amplo?
DR – Nosso estilo de fazer as coisas, de compor, de divulgar, sempre foi Faça-você-mesmo. Desde a primeira banda que eu tive, antes mesmo de ter a RoP, a gente sempre foi da ética do Faça-você-mesmo, sempre me fascinou a ideia de não precisar esperar por ninguém pra fazer o que a gente queria fazer. Ainda mais quando você se dá conta que o que você está fazendo não vai interessar quem tem dinheiro e os meios de produção. Então a gente mesmo fazer nossas coisas, lidar com nossas coisas, sempre me fascinou. É uma coisa que faço em todas as bandas que eu tive, a Renegades é a banda mais longeva e a gente faz isso desde sempre – seja gravar com amigos, em casa, produzir material a gente mesmo, imprimir, cortar, colar, fazer zine, enviar material pelo correio, silkar camisa, sempre foi a gente fazendo tudo com nossas próprias mãos. Tudo é muito mais facilitado por estarmos é era digital. Desde nosso primeiro material, pudemos fazer muito contato com pessoal por conta de redes sociais – algumas que nem existem mais. A gente consegue chegar em lugares que a gente não chegaria: Japão, Rússia, Europa, por conta de redes sociais. Nesse sentido, a era digital ampliou e potencializou muito o Faça-você-mesmo, não dependemos de alguém superespecializado pra fazer as coisas. Isso permeia tudo o que a gente faz e faz parte do DNA da banda.
MJ – Quais são os próximos passos para The Renegades of Punk após esse show de retorno? Podemos esperar novas músicas ou mais apresentações?
DR – Não sei bem o que esperar porque nem a gente sabe (risos). Não temos muitos shows em vista. A gente quer muito produzir material novo que é o que está fazendo. Então é continuar produzindo material novo e lançar um disco em breve – pelo menos a médio prazo é que eu espero.

MJ – Para aqueles que ainda não conhecem o tropical punk, que mensagem vocês gostariam de transmitir sobre o gênero e seu significado?
DR – Não sei bem se tem um significado. Esse termo começou de uma brincadeira que acabou ficando de algumas bandas aqui do Nordeste por conta de a gente se alinhar em algumas coisas e não estarmos num centro cultural considerado como o Sudeste, como SP ou RJ. Éramos sempre taxados de “bandas do Nordeste”, enquanto não falamos “bandas do Sudeste”. Nos alinhamos em algumas coisas: a gente está num lugar quente, a gente está na praia, a gente toma água de coco, a gente usa camisa de banda, mas usa sandália… então a gente, brincando, veio com esse negócio, de fazer um tropical punk e acabou ficando. Acho que descreve bem as coisas – não que sejamos supersurfistas e praianos, mas tem a ver com a atmosfera de um certo momento em que tínhamos nós, a Mahatma Gangue, do RN, a Skate Pirata, do CE, algumas bandas que estavam ativas, criando e até material juntos. Existia uma união, uma coisa legal que emanava daqui, sabe? Desse pedacinho não tão valorizado do Brasil. A gente começou a usar o termo sem muita pretensão, mas podemos pensar nisso: um momento específico de bandas específicas que estavam ativas, produzindo, interagindo e trocando entre elas, muito felizes fazendo acontecer essa coisa do punk rock, do Faça-você-mesmo, fora do eixo RJ-SP que tido como o centro cultural. É isso: não era apenas punk – era tropical punk.
Ouça:




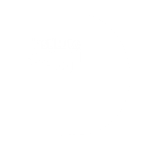
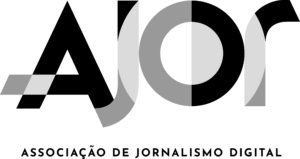



Uma resposta
Sou uma jornalista sergipana que – como muitos – migrou pro sudeste há alguns anos em busca de oportunidade de vida. Mas me orgulha muito ver pessoas e movimentos que me foram caros na juventude em Aracaju resistindo na cidade, nesse território tão bonito, pulsante e complexo, a despeito de qualquer investimento ou políticas públicas. Conheço o trabalho fascinante da Dani há muito tempo, fui uma menina apaixonada por punk que frequentou muitos ATPNs, posto Malibu, rua da cultura e encontros despretensiosos alternativos de carnaval em casa de amigos de amigos. Que saudade dessas épocas. Que feliz ler que o RoP tá de volta. Vida longa! Inspirando mais mulheres a meter o pé na porta e serem o que quiserem! Vocês me inspiram.
Obrigada Mangue jornalismo, alegria imensa ter conhecido o trabalho de vocês hoje pelas redes sociais. Vida longa também !